Dependência epistémica1
Dou comigo acreditando em todo o género de coisas a favor das quais não tenho provas: que fumar cigarros provoca o cancro do pulmão, que o meu carro está sempre a engasgar-se porque o carburador precisa de ser reconstruído, que a comunicação social é uma ameaça à democracia, que os bairros-de-lata provocam perturbações emocionais, que o bater irregular do meu coração é uma contracção ventricular prematura, que as notas dos estudantes não têm qualquer correlação com o sucesso no mundo não-académico, que as centrais atómicas não são (suficientemente) seguras… A lista de coisas que acredito, apesar de não ter provas a favor da sua verdade, é, senão infinita, pelo menos virtualmente sem fim. E eu sou finito. Apesar de conseguir facilmente imaginar o que teria de fazer para obter as provas que sustentariam qualquer uma das minhas crenças, não consigo imaginar ser capaz de o fazer quanto a todas. Acredito demasiado; há demasiadas provas relevantes (grande parte das quais só estão disponíveis depois de uma formação alargada e especializada); o intelecto é demasiado pequeno e a vida é curta.
Que diremos nós, como epistemólogos, quanto a todas estas crenças? Se eu, sem qualquer prova disponível, acredito mesmo assim numa proposição, será a minha crença, e eu ao tê-la, necessariamente irracional ou não-racional? Será a minha crença então mera crença (a opinião acertada de Platão)? Se não, por que não? Haverá outras boas razões para acreditar em proposições, razões que não se reduzam a ter provas a favor da verdade dessas proposições? Que razões seriam essas?
Neste artigo quero considerar a ideia de autoridade intelectual, em particular dos especialistas. Quero explorar a “lógica” ou estrutura epistémica de um apelo à autoridade intelectual e o modo como tal apelo constitui uma justificação para acreditar e saber. Dividi o artigo em três partes. Na primeira, defendo que se pode ter boas razões para acreditar numa proposição caso se tenha boas razões para acreditar que há quem tenha boas razões para acreditar nela e que, consequentemente, há um tipo de boa razão para acreditar que não constitui uma prova a favor da verdade da proposição. Na segunda, insisto que é porque o leigo é inferior ao especialista (em matérias em que o especialista é especialista) que a racionalidade consiste por vezes em recusar-se a pensar por si. Na terceira, aplico os resultados destas considerações ao conceito de conhecimento e defendo que a relação especialista-leigo é essencial para a procura científica e académica do conhecimento.
Se eu tiver razão, os apelos à autoridade epistémica são essencialmente ingredientes de grande parte do nosso conhecimento. Os apelos à autoridade de especialistas fornecem muitas vezes justificação à alegação de que se conhece, além de fundamentarem a crença racional. Ao mesmo tempo, contudo, a superioridade epistémica do especialista relativamente ao leigo implica a sua autoridade racional sobre o leigo, comprometendo a autonomia intelectual do indivíduo e obrigando a um reexame da nossa noção de racionalidade. O individualismo epistémico implícito em muitas das nossas epistemologias é assim posta em questão, tendo impactos importantes na maneira como entendemos o conhecimento e o conhecedor, assim como na nossa concepção de racionalidade.
I
Restringindo-nos — aqui e ao longo do artigo — à crença e ao conhecimento de proposições a favor das quais há provas, suponha-se que há boas razões para acreditar numa proposição — que p. Que tipos de coisas podem ser boas razões para acreditar que p? A resposta habitual a esta pergunta é em termos de provas, definindo-se “provas” aproximadamente como seja o que for que conta para estabelecer a verdade de p (i.e., argumentos sólidos, assim como informação factual). Há provas, pois, a favor de p, mas não se segue que toda a gente as tem ou sequer que pode tê-las.
Suponha-se que uma pessoa A tem boas razões — provas — para acreditar que p, mas uma segunda pessoa, B, não as tem. Neste sentido, B não tem razões (ou não tem razões suficientes) para acreditar que p. Contudo, suponha-se também que B tem boas razões para acreditar que A tem boas razões para acreditar que p. Tem então B, ipso facto, boas razões para acreditar que p? Se as tem, a crença de B fundamenta-se epistemicamente num apelo à autoridade de A e na crença de A. E, caso aceitemos isto, conseguiremos explicar como a crença de B pode ser mais do que uma mera crença; como pode, na verdade, ser racional; e como B pode ser racional ao acreditar que p. E os nossos problemas ficarão resolvidos… ou é agora que começam.
É agora que começam porque enfrentamos então a perspectiva, que até agora não foi tida em consideração pelos epistemólogos, de um tipo muito estranho de boa razão para acreditar: uma razão que não constitui uma prova a favor da verdade de p. Podemos ver este aspecto fazendo notar duas coisas. 1) Apesar de as provas de A contarem a favor do estabelecimento da verdade de p, as provas a favor de p não são mais fortes depois de B descobrir que A tem essas provas do que o eram antes de B ter conhecimento de A e das suas razões. 2) A cadeia de apelos à autoridade tem de acabar algures, e para que a cadeia completa de apelos seja epistemicamente sólida, tem de acabar em alguém que tem as provas necessárias, dado que as alegações de conhecimento não podem ser estabelecidas por apelo à autoridade, nem investigando o que as outras pessoas acreditam acerca delas.2
Mas B tem de ter algumas boas razões para sustentar a sua crença de que p, pois caso contrário será uma mera crença (a opinião certeira de Platão, de novo). B tem boas razões, certamente; de facto, tem provas. Mas as suas provas não contam para estabelecer a verdade de p; só contam para estabelecer que A (ao contrário do próprio B) “sabe do que fala” quando diz que p. Como pode B ter boas razões para acreditar que A tem boas razões para acreditar que p quando o próprio B não tem provas de que p? É fácil: B tem boas razões para acreditar que A levou a cabo o inquérito necessário para ter provas para acreditar que p.
Se o inquérito necessário for suficientemente simples, a crença de B de que p pode ser fundamentada em A apesar do facto de não considerarmos que A é um especialista. Por exemplo, se o funcionário da estação de serviço que verifica o óleo do meu carro me informasse que está OK, eu acreditaria nele, mas não consideraria que ele é um especialista. Contudo, os casos epistemologicamente mais interessantes são os que envolvem conhecimento especializado — casos em que B tem uma boa razão para acreditar que A é um especialista acerca de ser ou não verdadeiro que p, em resultado de um inquérito que foi contínuo, prolongado e sistemático.3
O apelo do leigo à autoridade intelectual do especialista, a sua dependência epistémica com respeito a ele, e a sua inferioridade intelectual (em matérias acerca das quais o especialista é especialista) expressam-se todas na fórmula com que temos estado trabalhando: B tem boas razões para acreditar que A tem boas razões para acreditar que p. Mas a inferioridade epistémica do leigo, e a sua dependência, pode ser ainda mais radical — em muitos casos, pode ser necessária uma formação alargada e uma competência especial antes de B poder conduzir o inquérito necessário. E, sem esta formação nem competência, B pode ser incapaz de entender as razões de A ou, ainda que as entenda, pode não ser capaz de ver o que as faz serem boas razões.
Michael Polanyi e Harry Prosch4 formulam a primeira parte deste aspecto dramaticamente, extraindo os seus exemplos das ciências físicas:
A concepção popular de ciência diz que esta é uma colecção de factos observáveis que qualquer pessoa pode verificar por si. Vimos que isto não é verdadeiro no caso do conhecimento especializado, como aquele que é necessário para diagnosticar uma doença. Além disso, não é verdadeiro nas ciências físicas. Em primeiro lugar, por exemplo, um leigo não pode de modo algum deitar mão do equipamento para testar uma afirmação factual de astronomia ou química. Mesmo supondo que poderia de algum modo conseguir usar um observatório ou um laboratório químico, não saberia usar os instrumentos que ali iria encontrar e poderia muito bem danificá-los a ponto de ficarem irreparáveis antes ainda de ter feito uma só observação; e se acaso conseguisse fazer uma observação para verificar uma afirmação científica e encontrasse um resultado que a contradissesse, poderia com toda a legitimidade pressupor que cometera um erro, como fazem os estudantes num laboratório quando estão a aprender a usar o equipamento. (184–185)
Além disso, a formação e a competência resultantes para conduzir o inquérito exigido só são muitas vezes acessíveis a quem tem certos talentos e capacidades. Consequentemente, B poderá nunca ser capaz de obter as provas que sustentam a sua crença de que p. Se a minha própria luta perdida e desesperada com o cálculo, quando era caloiro, for um indicador fidedigno, poderei nunca ser capaz de obter provas da minha crença de que a física da relatividade está correcta, por mais tempo e esforço que dedique a essa empresa. Poderá simplesmente acontecer que eu não tenha a capacidade matemática para ter tais provas.
Mas a formação alargada e a competência especial podem ser necessárias antes de se poder avaliar ou até compreender as razões dos especialistas para acreditar que p. Apesar de eu poder ser capaz de compreender estudos acerca do impacto da comunicação social nos eleitores, não tenho a competência para avaliar os méritos desses estudos, pois não sou versado nas questões que dizem respeito aos métodos de investigação das ciências sociais. E, sem essa exigida formação e capacidade matemáticas, não posso sequer ler os livros e artigos que sustentam a minha crença de que a física da relatividade está correcta.
Consequentemente, se o leigo B 1) não fez o inquérito que forneceria provas da sua crença de que p, 2) não tem a competência para fazê-lo, e talvez não possa sequer adquiri-la, 3) é incapaz de avaliar os méritos das provas fornecidas pelo inquérito especializado de A, e 4) pode nem sequer ser capaz de compreender as provas e como sustentam elas a crença de A de que p, poderá B apesar disso ter boas razões para acreditar que A tem boas razões para acreditar que p? Penso que sim. Nesse caso, será de concluir que a crença de B de que p tem justificação racional? Penso que sim, reconhecendo que as crenças de B têm melhores fundamentos epistémicos que outras crenças que consideraríamos simplesmente irracionais ou não-racionais.
Muitos epistemólogos pode ser tentados a rejeitar esta conclusão porque diverge tanto da perspectiva comum acerca da natureza da crença racional. Mas penso que temos de dizer que a crença de B tem justificação racional — ainda que ele não saiba quais são as razões de B nem as compreenda — se não quisermos ser forçados a concluir que uma percentagem muito grande de crenças em qualquer cultura complexa são simples e inevitavelmente irracionais ou não-racionais. Pois, em tais culturas, sabe-se mais coisas relevantes para a verdade das crenças do que alguém poderia saber só por si. E seria certamente paradoxal que os epistemólogos sustentassem a ideia de que quanto mais se sabe numa cultura, menos racionais são as crenças dos indivíduos dessa cultura.
II
Apesar de tudo, a aceitação do individualismo epistemológico custa a morrer. Poderá muito bem ressurgir disfarçado de uma sugestão acerca da postura apropriada de um leigo responsável e racional em relação ao especialista. Se não estou presentemente em posição de saber quais são as boas razões do especialista para acreditar que p nem de compreender por que são boas, não estou obviamente em posição de verificar a precisão do que me diz. Que postura devo então assumir? Uma sugestão plausível e tentadora é que, se eu penso que tenho a capacidade exigida, devo informar-me de modo a poder avaliar quão fidedignos são os relatos do especialista, escapando assim da minha dependência relativamente a ele e voltando a ter a minha autonomia intelectual.
A ideia por detrás desta sugestão está no coração de um modelo do que significa ser uma pessoa intelectualmente responsável e racional, modelo que é muito bem captado pela afirmação de Kant de que uma das três regras básicas ou máximas para evitar o erro ao pensar é “pensar por si“.5 Este é, parece-me, um modelo extremamente difundido de racionalidade — está subjacente à dúvida metódica de Descartes; está implícito na maior parte das epistemologias; afecta o modo como temos pensado sobre o conhecimento. Deste ponto de vista, o próprio núcleo da racionalidade consiste em preservar e aderir ao nosso próprio juízo independente; pois como podemos ter a certeza de que estamos a ser informados, em vez de desinformados, se não ajuizarmos?
Mas eu sustento que este modelo fornece um ideal romântico completamente irrealista e que, na prática, tem como resultado crenças e juízos menos racionais. Eu poderia, na verdade, libertar-me da dependência epistémica relativamente a alguns especialistas; caso eu tenha suficiente talento, talvez consiga libertar-me do apoio num dado especialista. Mas se me dedicasse à autonomia epistémica completa só conseguiria ter crenças relativamente mal informadas, nada fidedignas, grosseiras, não-testadas e portanto irracionais. Para ser racional nunca consigo evitar alguma dependência epistémica relativamente aos especialistas, devido ao facto de acreditar em mais do que aquilo acerca do qual me posso informar completamente.
Uma vez mais, pois: se não estou em posição de saber quais são as boas razões do especialista para acreditar que p e por que são boas, que postura devo assumir relativamente a ele? Se não sei estas coisas, também não estou em posição de determinar se é realmente um especialista. Se fizesse as perguntas adequadas, poderia ser capaz de detectar alguns charlatões, impostores ou incompetentes, mas só os mais óbvios. Por exemplo, posso suspeitar que o meu médico é incompetente, mas em geral teria de saber o que os médicos sabem para confirmar ou afastar a minha suspeita. Assim, temos de enfrentar as implicações do facto de os leigos não compreenderem completamente o que constitui boas razões no domínio da opinião especializada.
É de conceder que posso fazer algumas averiguações sobre um dado especialista e talvez consiga obter uma hierarquização de vários6 — apoiando-me noutros especialistas. Se o meu médico me diz que devo consultar um cardiologista, posso perguntar a ele e a outros médicos da comunidade acerca dos cardiologistas locais. Ou se quero saber os efeitos da comunicação social nos eleitores, posso ir ao departamento de ciência política e perguntar quem fez o melhor trabalho nesta área e se esse trabalho recebeu algumas críticas significativas. Estas averiguações sobre os especialistas e a sua hierarquização pode exprimir-se alargando a nossa fórmula e a sua sugerida cadeia de autoridade: B tem boas razões para acreditar que C tem boas razões para acreditar que A tem boas razões para acreditar que p. Contudo, ao apelar a tal hierarquização de especialistas, não readquiri a minha autonomia epistémica e deixei de me apoiar em especialistas — só alarguei e refinei esse apoio. Nem poderia readquirir a minha autonomia epistémica em todos os casos sem acreditar com base em razões relativamente rudimentares e não-testadas.
É também de conceder que se não sei quem são os especialistas e não tenho maneira de descobri-lo, não terei maneira de apelar à cadeia de autoridade. Não saberei então quem tem boas razões para acreditar que p, por quem devo ter deferência, ou de quem é a opinião que me dará boas razões para acreditar que p (se é que há alguma). Isto acontece por vezes e, nesses casos, a deferência racional torna-se impossível. Mas em geral consigo encontrar alguém cuja opinião é mais informada que a minha e que pode reenviar-me para alguém que sabe se se dá ou não o caso de que p. E mesmo que um leigo, devido à sua relativa incapacidade para distinguir entre os especialistas, acabe por apelar a um especialista menor em vez de maior, a opinião do menor será mesmo assim melhor que a sua.7
Assim, em termos da nossa fórmula, B poderia acreditar que p porque tem boas razões para acreditar que A tem boas razões para acreditar que p, ou porque tem boas razões para acreditar que C tem boas razões para acreditar que A tem boas razões para acreditar que p. Mas, em qualquer caso, B não pode ter razões suficientemente boas para não acreditar que p ou para acreditar que não-p. Por outras palavras, o leigo não pode racionalmente recusar ter deferência pelas perspectivas do especialista ou especialistas que reconhece. Isto não significa que B nunca consegue levantar uma objecção devastadora à crença de que p ou nunca consegue imaginar uma alternativa à crença de que p, mas significa que só alguém com o conhecimento especializado de A pode avaliar com precisão o valor e a validade da objecção ou da alternativa. Interrogado pelo leigo, o especialista pode admitir a cogência de um dado ponto, mas ele (e os seus colegas especialistas) tem de ajuizar se é cogente e relevante, dado que só eles compreendem completamente o que está envolvido nos métodos, técnicas, premissas e bases da formação e inquérito do especialista, e como estes afectam a crença resultante.
O leigo pode, por outras palavras, propor críticas e alternativas, mas racionalmente tem de permitir que o especialista as rejeite, pois numa conversa com um especialista (em contraste com um diálogo entre congéneres8), o tribunal de última instância pertence somente a uma das partes, em virtude da sua maior competência para levar a cabo o inquérito acerca do assunto relevante, e o seu maior compromisso para o fazer. O leigo racional reconhece que o seu próprio juízo, sem informação que resulte de formação e inquérito, é racionalmente inferior ao do especialista (e ao da comunidade de especialistas em nome da qual o especialista geralmente fala) e consequentemente pode ser sempre racionalmente impugnado. Reconhecendo que o tribunal de última instância não está em si, o leigo pode simplesmente ter de aceitar o facto de a sua objecção não ser boa, ainda que continue a parecer-lhe boa.
Há, evidentemente, toda uma série de ad hominems que permitem que um leigo se recuse racionalmente a ter deferência pela opinião do especialista. O leigo pode afirmar que o especialista não é uma testemunha desinteressada, neutra; que o seu interesse no resultado da discussão torna o seu testemunho preconceituoso. Ou que não está de boa fé — que está a mentir, por exemplo, ou que se recusa a admitir um erro nas suas perspectivas porque essa admissão teria tendência para enfraquecer a reivindicação de que tem uma competência especial. Ou que está a proteger os seus colegas, ou a ceder perante a pressão social de quem trabalha no seu campo, etc., etc. Tais ad hominems não são sempre falaciosos, e por vezes fundamentam realmente a recusa racional de ter deferência pelas afirmações dos especialistas. Mas uma característica interessante desses ad hominems é que parecem muito mais admissíveis, importantes e incriminatórios nas discussões de um leigo com especialistas, e talvez o sejam, do que nos diálogos entre colegas. Não é muito importante que os nossos colegas sejam tendenciosos ou que tenham má fé; acabarão por ser apanhados. Os méritos dos seus argumentos podem ser testados e avaliados ao invés de serem apenas aceites.
Com a excepção — frequentemente uma excepção importante — desses ad hominems, não vejo maneira de evitar a conclusão proposta: que o leigo racional irá reconhecer que, em questões acerca das quais há uma boa razão para acreditar que há opinião especializada, ele deve (metodologicamente) não decidir por si. A sua postura nestas matérias consistirá habitualmente — se ele for racional — em ter deferência racional pela autoridade epistémica do especialista.
Caso se objecte que, em casos em que a opinião dos especialistas se divide, o leigo não terá qualquer método para decidir se haverá de acreditar ou não que p, é de conceder que as coisas são mesmo assim.9 Mas, nesses casos, o leigo racional, reconhecendo que o seu próprio inquérito relativamente casual e rudimentar não tem competência para decidir questões que mesmo o inquérito persistente dos especialistas não consegue decidir, reconhecerá também que está perante uma situação em que terá de suspender a crença ou — se isto for impossível ou indesejável — chegar à crença por meio de alguma maneira que é de admitir não ser racional. E caso se objecte que o leigo B pode ter boas razões para acreditar que p mesmo que seja falso que p e mesmo que o especialista A não tenha boas razões para acreditar que p, também isto é de conceder. Pois B será por vezes enganado pela afirmação fraudulenta ou errada de que se trata de um especialista, apesar da tentativa cuidadosa para determinar que A é realmente um especialista acerca de p; e, além disso, não há simplesmente garantia alguma de que as perspectivas mesmo dos melhores especialistas actuais coincidam com a verdade final.
A conclusão de que é por vezes irracional pensar por si — que a racionalidade por vezes consiste em ter deferência pela autoridade epistémica e, consequentemente, em aceitar passiva e acriticamente o que nos é dado para acreditar — parecerá estranha e inaceitável a quem tem apego pelo individualismo epistémico, pois faz erodir o seu paradigma de racionalidade. A quem não o tem poderá parecer demasiado óbvio para merecer tanta elaboração. Mas, em qualquer caso, defendo que devemos reformular as nossas epistemologias e as nossas abordagens da racionalidade para que se harmonizem com este facto importante da vida moderna.
III
Apesar de a discussão anterior ser obviamente relevante para a palavra maior da epistemologia — saber — evitei astutamente usá-la até agora. Mas a relevância para a discussão é clara, dada a análise canónica de “A sabe que p” em termos de 1) A acredita que p, 2) A tem boas razões para acreditar que p, e 3) é verdadeiro que p. A terceira condição é comummente considerada a crucial, e ameaça tornar toda a análise inaplicável ao conhecimento; pois A pode ter boas razões para acreditar que p apesar de p ser falsa, e B pode ter boas razões para acreditar que A tem boas razões para acreditar que p — uma vez mais, ainda que seja falso que p. Contudo, esta terceira condição não é a minha preocupação principal, pois eu defenderia uma concepção falibilista de conhecimento.
Quero, ao invés, deter a atenção na mais negligenciada segunda condição da análise anterior de “A sabe que p”. Parece plausível que tanto A como B têm de ter razões melhores ou mais completas para saber que p do que as necessárias para ter apenas boas razões para acreditar que p; pois algumas crenças, ainda que racionais, não estariam suficientemente bem fundadas para serem consideradas conhecimento (mesmo numa concepção falibilista de conhecimento). Assim, parece razoável sustentar que há uma progressão de 1) acreditar que p (mera crença ou opinião acertada), para 2) ter boas razões para acreditar que p (crença racional), e daqui para 3) saber que p.
O que acontece, pois, caso se insira “saber” em vez de “tem boas razões para acreditar” na nossa fórmula, i.e., B sabe que A sabe que p? Será possível saber vicariamente, digamos, ou terá quem sabe (em contraste com quem tem uma mera crença racional) de andar pelas suas próprias pernas epistémicas? Defendi anteriormente que B pode ter boas razões para acreditar que p sem ter quaisquer razões directas ou provas a favor de p. Acontecerá o mesmo com o conhecimento? Ou terá B de saber que p antes de poder saber que A sabe que p, bloqueando assim um apelo ao conhecimento de A como base e justificação da sua própria pretensão de que sabe? Por outras palavras, recordando a distinção anterior entre ter provas de que p e outro tipo de boa razão para acreditar que p, tem B de ter as provas da verdade de p para saber que p? Ou pode o conhecimento, como a crença racional, basear-se num apelo à autoridade epistémica?
Suponha-se que alguém me diz algo que é verdadeiro sem me dar provas da sua verdade. Talvez A me diga que o laetrile10 não cura o cancro sem me dar os estudos que o provam, para não falar dos dados concretos em que os estudos se baseiam. Mas suponha-se que tenho boas razões para acreditar que A é uma autoridade no campo da investigação do cancro e por isso acredito no que me diz. Será então que eu sei que o laetrile não cura o cancro, ou consegui algo muito inferior ao conhecimento (talvez apenas opinião acertada ou crença racional)? Se o sei, é possível saber que p sem ter provas da sua verdade. Mas isso parece paradoxal ou contra-intuitivo; pois, nos casos sob consideração, as provas são relevantes para estabelecer conhecimento, mas estamos perguntando se é possível ter este conhecimento sem as provas relevantes.
Ainda mais paradoxal é a ideia de que B pode saber que p apesar de não compreender que p. Suponha-se que uma autoridade eminente de física das partículas me diz que um quark é uma partícula fundamental, e suponha-se que isto é verdadeiro. Mas eu nem sequer entendo o que isso significa, porque não tenho qualquer noção do que é um quark ou do que conta como partícula fundamental. Contudo, vou fazer averiguações sobre o físico e, em resultado disso, sei que tem credenciais ímpares. Poder-se-á então dizer que sei que um quark é uma partícula fundamental, apesar de nem sequer compreender o que sei?
Em suma: devemos dizer que B pode 1) saber que p ao saber que A sabe que p, e 2) sabê-lo sem saber primeiro que p? Devemos dizê-lo ainda que isto implique que B pode saber que p sem ter provas a favor de p e talvez sem compreender sequer p? Em vez de tentar responder directamente a estas perguntas, irei defender que muito do que queremos considerar conhecimento repousa na estrutura epistémica expressa pela fórmula B sabe que A sabe que p.11 Irei então oferecer duas conclusões e deixar que o leitor decida qual delas é mais epistemologicamente atraente.
Os cientistas, investigadores e académicos são, pelo menos por vezes, conhecedores, e todos estes conhecedores se apoiam nos ombros uns dos outros do modo expresso pela fórmula B sabe que A sabe que p. Estes conhecedores não poderiam fazer o seu trabalho sem pressupor a validade de muitas investigações que não podem (por razões de competência e também de tempo) validar por si próprios. Os cientistas, por exemplo, pura e simplesmente não repetem as experiências dos colegas a menos que seja importante e que tenha algo de suspeito. Além disso, seria impossível seja a quem for chegar ao topo da investigação em, digamos, física ou psicologia, caso se apoiasse apenas nos resultados do seu próprio inquérito ou caso insistisse em avaliar por si as provas por detrás de todas as crenças que aceita no seu campo. Assim, se os cientistas, investigadores e académicos têm conhecimento, a relação leigo-especialista está presente também no seio da estrutura do conhecimento e um especialista é-o em parte porque muito frequentemente assume o papel de leigo no seio do seu próprio campo.
Além disso, a investigação em muitos campos é cada vez mais feita por equipas e não por indivíduos. Por exemplo, não é incomum que o título de um artigo que relata resultados experimentais na física de partículas tenha o seguinte aspecto:
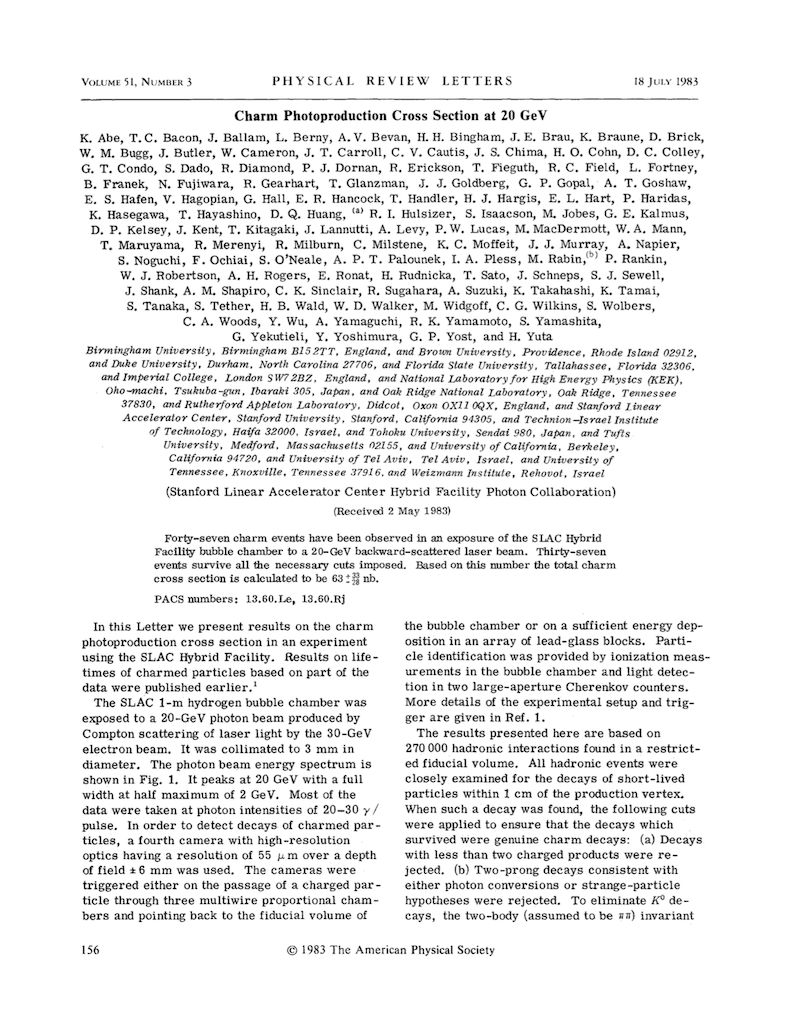
William Bugg, Professor de física na Universidade do Tennessee, Knoxville, e um dos seus participantes, explicou como se faz experiências deste género. A experiência, que registou ocorrências de charmes e mediu a longevidade das partículas com charme, foi apenas uma de uma série que custaram talvez dez milhões de dólares. Depois de obter financiamento, gastou-se cerca de cinquenta homens-hora para fazer o equipamento requerido e os aperfeiçoamentos necessários no Acelerador Linear de Stanford. Depois, aproximadamente cinquenta físicos trabalharam talvez cinquenta homens-ano coligindo os dados para experiência. Quando os dados foram obtidos, os experimentalistas dividiram-se em cinco grupos geográficos para analisar os dados, um processo que envolveu ver dois milhões e meio de imagens, fazer medições de trezentos mil acontecimentos interessantes, e inserir os resultados em computadores para isolar e medir quarenta e sete ocorrências de charmes. O “Grupo da Costa Ocidental” que analisou cerca de um terço dos dados incluía quarenta físicos e técnicos que gastaram cerca de sessenta homens-ano na sua análise.
Obviamente, nenhuma pessoa individual poderia ter feito esta experiência — de facto, Bugg relata que nenhuma universidade ou laboratório nacional poderia fazê-lo — e muitos dos autores de um artigo como este não saberão sequer como se chegou a um dado número mencionado no artigo.12 Além disso, ainda que uma pessoa pudesse saber e viver o suficiente para fazer tal experiência, seria absolutamente em vão tentar fazê-lo, pois os seus resultados ter-se-iam tornado obsoletos muito antes de chegar ao fim da experiência. Apesar de Bugg ter confiança nas medições da longevidade das partículas com charme levadas a cabo pela equipa, calcula que dentro de três anos outro grupo irá descobrir alguma técnica que dará resultados consideravelmente melhores. Consequentemente, espera que dentro de cinco anos o artigo não terá qualquer interesse geral.
Por fim, Bugg faz notar que os noventa e nove autores do artigo representam diferentes especializações na física de partículas, mas todos são experimentalistas, de modo que nenhum seria capaz de levar a cabo as revisões teóricas que poderiam ser necessárias em resultado desta experiência e que constitui grande parte da sua razão de ser. Por outro lado, a maior parte dos teóricos não teriam competência para fazer a experiência — e nem os experimentalistas nem os teóricos têm competência para conceber, construir e fazer a manutenção do equipamento sem o qual a experiência não poderia ser levada a cabo.
Obviamente, este é um exemplo, ainda que não seja de modo algum extremo no domínio da física de partículas.13 Contudo, consegue-se ver como a dependência de outros especialistas permeia qualquer campo complexo de investigação quando se reconhece que a maior parte das notas de rodapé que citam referências são apelos à autoridade. E quando estas notas de rodapé são usadas para estabelecer premissas do estudo, inserem o autor em relações de leigo-especialista mesmo no seio da sua própria investigação. Além disso, o horror que percorre a comunidade científica quando um investigador fraudulento é apanhado é instrutivo, pois o que está em questão não é apenas a confiança pública. Ao invés, cada investigador é obrigado a reconhecer até que ponto o seu próprio trabalho se apoia no trabalho alheio — trabalho que ele não verificou por si nem poderia fazê-lo (ainda que seja apenas por uma questão de tempo e despesa).
Assim, em muitíssimos casos há claramente no seio da investigação uma rede complexa de apelos à autoridade de vários especialistas, e o conhecimento resultante não poderia ter sido obtido por uma só pessoa. Temos então algo como o seguinte:
A sabe que m.
B sabe que n.
C sabe 1) que A sabe que m, e 2) que se m, então o.
D sabe 1) que B sabe que n e 2) que C sabe que o, e 3) que se n e o, então p.
E sabe que D sabe que p.
Suponha-se que esta é a única maneira de saber que p e que, além do mais, ninguém que “saiba” que p sabe que m, n e o, excepto sabendo que outros o sabem. Será que D ou E sabem que p? Há alguém que saiba que p? É esse p conhecido?
A menos que se sustente que a maior parte da nossa erudição e investigação científica nunca poderia resultar em conhecimento, devido à metodologia cooperativa do empreendimento, defendo que temos de dizer que p é conhecido em casos como este. Mas se D ou E sabem que p, temos também de dizer que uma pessoa pode saber “vicariamente” — i.e., sem ter as provas a favor da verdade do que sabe, talvez até sem compreender completamente o que sabe. E esta conclusão exigiria mudanças dramáticas na nossa análise do que o conhecimento tem de ser.
Se esta conclusão não é atraente, há outra possibilidade. Talvez quem sabe que p não seja uma pessoa só, mas antes a comunidade composta por A, B, C, D e E. Talvez D e E não tenham o direito de dizer “Sei que p”, mas apenas “Sabemos que p”. Esta comunidade não é redutível a uma classe de indivíduos, pois nenhum deles e nenhum deles individualmente sabe que p. Se formos por esta via, poderíamos manter a ideia de que o conhecedor tem de compreender e ter provas a favor da verdade do que sabe, mas ao fazê-lo negamos que quem conhece é sempre um indivíduo ou até uma classe de indivíduos. Esta alternativa pode muito bem apontar para o que Peirce talvez tenha tido em mente quando afirmou que é a comunidade de investigadores que conhece primariamente e que o conhecimento individual é derivado.
Esta última conclusão poderá ser a mais atraente epistemologicamente; pois permite-nos salvar a velha e importante ideia de que conhecer uma proposição exige compreendê-la e ter as provas relevantes a favor da sua verdade. Mas não será muito confortável para quem gosta de paisagens desertas, autonomia intelectual ou individualismo epistémico; pois faz erodir o individualismo metodológico implícito na maior parte da epistemologia. Acredito que é também profundamente inquietante porque mostra até que ponto até mesmo a nossa racionalidade se apoia na confiança, e porque é uma ameaça a alguns dos nossos valores mais acarinhados — a autonomia e responsabilidade individuais, a igualdade e a democracia. Mas isso é uma história para outra ocasião.
Assim, se os argumentos deste artigo forem aceites, exige-se algumas mudanças muito básicas nas nossas epistemologias. Temos de reformular a nossa concepção do que significa ser racional, tanto no que respeita a crenças como a pessoas. Temos também de concordar que podemos saber sem ter as provas de apoio ou de aceitar a ideia de que há conhecimento que é conhecido pela comunidade mas não por qualquer conhecedor individual.
Notas
- Num artigo sobre dependência epistémica, é apropriado reconhecer as minhas próprias dívidas. Beneficiei dos comentários proveitosos e das críticas a versões anteriores deste artigo por parte de William R. Carter, por parte de membros dos departamentos de filosofia da Universidade do Tennessee e da Universidade Estadual do Leste do Tennessee, e por parte de Mary Read English. A minha dependência de William Bugg, Professor de Física da Universidade do Tennessee com respeito à discussão de um exemplo central tornar-se-á evidente.↩︎
- Poderia mesmo assim parecer que se B tem boas razões para acreditar que A tem boas razões para acreditar que p, então B tem provas de que p. A disputa entre mim e alguém que se inclinasse a insistir nesta objecção dependeria de questões epistemológicas delicadas associadas à clarificação do conceito de prova. Mas eu argumentaria que B não tem provas de que p, insistindo no seguinte, além dos argumentos apresentados no corpo deste artigo. 1) As provas de que p contam contra as provas de que não-p. Mas considere-se um caso de especialistas discordantes: A, que tem provas de que p, e C, que tem provas de que não-p. Nesse caso, se B acredita que p só porque acredita que A tem boas razões para acreditar que p, as razões de B não contam contra C; só as de A contam. 2) Seria possível construir casos em que B tem uma boa razão para acreditar que A tem uma boa razão para acreditar que p apesar de concordarmos que não há provas a favor de p. (Na secção II haverá mais a dizer sobre casos destes.) Mas seja como for que se resolva esta disputa quanto a “provas”, eu faria notar que as razões de B dependem logicamente de A. A maior parte do resto das ideias deste artigo seguem-se se isto for concedido.↩︎
-
Pressuponho que podemos todos concordar que há especialistas, mas não tentei neste artigo oferecer uma definição precisa de “especialista” nem delinear o âmbito da especialização possível (para lá da restrição introdutória de que este artigo se limita à crença e conhecimento de proposições a favor das quais há provas). Se as teses deste artigo estiverem correctas, contudo, será crucial que os epistemólogos discutam a definição de “especialista” e o domínio da especialização efectiva e possível.
Mas uma observação acerca do meu uso de “especialista” torna-se necessária: não pressupõe nem implica a verdade das perspectivas do especialista. Se definirmos “especialista” em termos da verdade das suas perspectivas (como fazem o Górgias e o Trasímaco de Platão), é frequentemente impossível em princípio dizer quem é especialista — mesmo que nós próprios sejamos especialistas! — visto que é muitas vezes impossível dizer qual das perspectivas coincide com a verdade. Mas eu defendo que não é de modo semelhante impossível dizer o que constitui um inquérito contínuo e relevante e quem a ele se entrega (apesar de por vezes surgirem problemas muito sérios ao fazer tal juízo). E onde o inquérito contínuo é necessário, e eficaz, para determinar se p ou não, as perspectivas dos especialistas têm menos hipóteses de estarem erradas e têm boas hipóteses de estar menos erradas do que uma opinião de um não-especialista. Assim, no meu uso de “especialista”, a conexão entre a verdade e as perspectivas do especialista não é completamente bloqueada, ainda que essa conexão não seja necessária nem simples.↩︎
- Meaning (Chicago: University Press, 1977).↩︎
- Critique of Judgement, trad. J. H. Bernard (Nova Iorque: Hafner, 1951), p. 136; itálicos de Kant. Kant repete esta afirmação em Antropologie, p. 118, e na Logik, 371, ambas edições de Cassirer (Berlin, 1932).↩︎
- Numa série de artigos recentes, Keith Lehrer explorou as questões respeitantes à hierarquização de especialistas e das opiniões de vários especialistas e, consequentemente, à maneira de lidar com o problema do desacordo entre eles, com muito mais rigor e precisão do que consigo fazer aqui. Cf., e.g., “Social Information”, Monist, I.X, 4 (Outubro, 1977): 473–487, e também os artigos que Lehrer refere nas notas de rodapé.↩︎
- Claro que um tratamento mais detalhado de toda a questão da identificação de especialistas relevantes teria de distinguir entre 1) B ter a mera crença de que A tem boas razões para acreditar que p, 2) B ter alguma razão para acreditar que A tem boas razões para acreditar que p, e 3) B ter boas razões para acreditar que A tem boas razões para acreditar que p. E nada disto resolve o problema prático amiúde penoso de identificar quem são os verdadeiros especialistas, ou os melhores — e.g., que há-de fazer o paciente perante opiniões médicas díspares? Mas estas são questões e problemas logicamente posteriores; o argumento desta secção do artigo é que em qualquer caso ele não deve fazer o seu próprio diagnóstico, e nem sequer ler algumas coisas sobre o seu problema e depois fazer o seu próprio diagnóstico.↩︎
- Tentei explanar a lógica do diálogo entre presumíveis congéneres epistémicos na área do raciocínio moral no meu artigo “The Achievement of Moral Rationality”, Philosophy and Rhetoric, VI, 3 (Verão de 1973): 171–185.↩︎
- Se for possível hierarquizar os especialistas das maneiras exploradas por Lehrer (op. cit.) ou de outra maneira qualquer, o leigo pode é claro resolver o dilema que surge quando há opiniões díspares de especialistas, tendo deferência pelda melhor opinião especializada. Contudo, haverá mesmo assim casos em que mesmo os melhores especialistas irão discordar.↩︎
- Substância antineoplásica, também conhecida como “vitamina B17”. N. do T.↩︎
- Esta estratégia de abordagem significará, é claro, que ficará à mercê de um epistemólogo suficientemente corajoso que evite a minha conclusão abraçando a perspectiva de que os resultados dos cientistas, investigadores e académicos não são e não poderiam ser conhecimento sempre que se baseiam em metodologias cooperativas. Esta opção não me parece muito atraente, no mínimo.↩︎
- Claro que só um número reduzido de pessoas escrevem o artigo, mas não se segue que estas pessoas conhecem todo o processo nem que compreendem completamente a experiência e a análise dos dados. Segundo Bugg, apesar de algumas poucas pessoas — “as mais activamente envolvidas no trabalho com os dados e que consequentemente melhor os entendem” — terem concebido a experiência (este artigo tem apenas três páginas e meia), na verdade limitaram-se a preparar um rascunho para ser submetido a revisões e correcções por parte dos outros autores. A equipa reuniu-se então para discutir pontos substanciais relativamente às técnicas de análise dos dados e ao modo como o artigo deveria ser apresentado para permitir que os outros físicos o compreendam.↩︎
- Dos quarenta e dois artigos sobre campos e partículas elementares publicados pela Physical Review Letters nos três meses de 25 de Abril a 18 de Julho de 1983, onze têm mais de dez autores, nove mais de vinte, e cinco mais de quarenta. No mesmo período, só cinco artigos foram de autoria singular.↩︎
ISSN 1749-8457